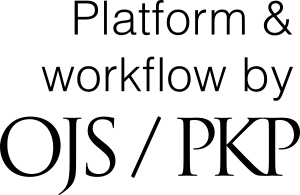MELANCOLIA NA PSIQUIATRIA: ENTRE O ROMANTISMO VITORIANO E A NEUROCIÊNCIA MODERNA
Palavras-chave:
Melancholia, Depression, Psychoanalysis, Victorian era, Freudian theoryResumo
Desde os tempos antigos, a melancolia intrigou e desafiou os estudiosos, unindo os reinos da medicina, filosofia e arte. Hipócrates primeiro conceituou a melancolia como um desequilíbrio de humores, estabelecendo uma base para sua posterior identificação como uma condição psíquica profunda. Na era vitoriana, figuras como Falret e Freud dissecaram ainda mais a melancolia, associando-a ao retardo psicomotor, anedonia e desespero existencial. A estrutura psicanalítica de Freud redefiniu a melancolia como uma forma patológica de luto, enfatizando a internalização da perda e o enfraquecimento do eu. Apesar de seu significado histórico, a distinção entre melancolia e Transtorno Depressivo Maior (TDM) permanece controversa, particularmente após sua exclusão do DSM-III. Estudos contemporâneos destacam as características psicopatológicas únicas da melancolia, incluindo disfunções vegetativas e sintomas psicóticos, distinguindo-a de estados depressivos mais amplos. Para além da psiquiatria, a melancolia influenciou profundamente a literatura e a arte, moldando obras de Machado de Assis e José de Alencar como explorações do sofrimento existencial e da crítica social. Este artigo ressalta a complexidade da melancolia como uma construção multifacetada, defendendo sua compreensão diferenciada dentro de estruturas clínicas e culturais. Os sistemas de classificação em evolução e suas limitações destacam a necessidade de um diálogo interdisciplinar contínuo para abordar o enigma duradouro da melancolia.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Guilherme Sundré Brandão

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.